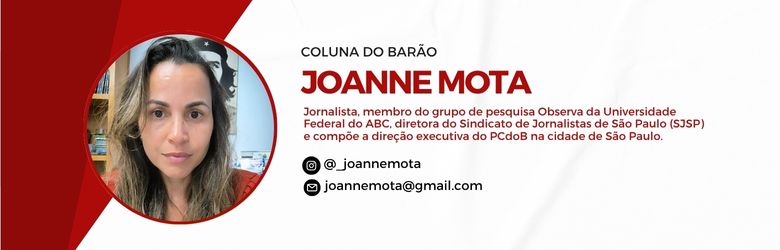
A violência no mundo do trabalho assume muitas formas. E não estamos falando apenas dos baixos salários, das longas jornadas ou da precarização cada vez mais intensa. A violência é também simbólica, institucional, psicológica, física. É o racismo naturalizado nas relações hierárquicas, o assédio sexual ou moral disfarçado de “pressão”, a vigilância permanente, o adoecimento silencioso, o silenciamento de vozes que denunciam. A exploração não é apenas econômica — ela é vivida no corpo, na mente e no cotidiano.
Por Joanne Mota, para o Barão de Itararé
Dados recentes publicados no jornal Valor, no dia 24 de julho deste ano, mostram um crescimento alarmante das ações trabalhistas por discriminação. Nos últimos dez anos, os processos por racismo cresceram 174%, ultrapassando 860 apenas em 2024. Um dado que aumentou em meio ao avanço da luta contra essa chaga social vergonhosa. E vale destacar que estatística ainda é subnotificada. A maioria das vítimas silencia — por medo de represálias, por descrença na Justiça, ou porque a cultura empresarial transforma a denúncia em “problema de atitude”.
Esse cenário revela o que intelectuais como Frantz Fanon e Clóvis Moura já afirmavam há décadas: o racismo não é um acidente do sistema. Ele é parte da engrenagem. É estruturante. Fanon aponta o racismo como produto direto da dominação colonial e da lógica capitalista. Moura demonstrou que a escravidão foi o alicerce da formação do capitalismo no Brasil — e que, mesmo após a chamada “abolição”, os mecanismos de opressão e exclusão racial seguem atualizados e legitimados.
O racismo, no entanto, não caminha sozinho. Ele se articula com outras formas de opressão e violência, como o machismo, a LGBTfobia e o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Um exemplo dramático dessa realidade é a rotina dos jornalistas e comunicadores: uma pesquisa da Fenaj mostrou que 6 em cada 10 jornalistas no Brasil já sofreram assédio. Além disso, 7 em cada 10 já foram vítimas de violência online ou presencial por conta do exercício da profissão. A maioria das vítimas são mulheres, e dentro desse grupo, as mulheres negras enfrentam uma violência ainda mais grave, cotidiana e invisibilizada.
Essa experiência brutal não é um desvio de percurso, mas a expressão mais evidente da reestruturação do capitalismo nas últimas décadas. A flexibilização dos direitos, o avanço da terceirização, a uberização das relações de trabalho e os ataques ao movimento sindical criaram um ambiente hostil para quem trabalha — especialmente para quem ousa resistir.
A naturalização da escala 6×1, é outro reflexo direto dessa lógica. Imposta como regra, essa jornada exaustiva reforça a ideia de que viver para o trabalho é natural. E se é verdade que essa violência atinge a todos, ela recai de forma ainda mais dura sobre as mulheres — especialmente as negras. São elas que carregam jornadas duplas ou triplas, conciliando o emprego formal com o trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Para elas, já disse aqui nesta coluna, a escala é 24×7.
Precisamos ter em tela que as violências de hoje, não nasceram hoje. Elas surgem a partir dos sucessivos sistema de opressão e são agravadas pela chamada cultura escravocrata, que encontra na cultura do empreendedorismo uma parceria fértil, que hoje é vendida sob o discurso de uma promessa de liberdade, outro disfarce da precarização. Ela transfere ao indivíduo a responsabilidade por sobreviver num sistema que nega direitos e separa descaradamente a sociedade em classes.
É nesse contexto que lutas como o fim da escala 6×1, o combate ao racismo, ao assédio e à violência no ambiente de trabalho ganham centralidade estratégica. Elas não são lutas “menores” ou “setoriais” e não devem ser analisadas como lutas descoladas da dicotomia capital e trabalho. São portas de entrada para a reorganização da classe trabalhadora a partir da realidade concreta de quem de fato vive do próprio trabalho.
Mas essa reorganização exige método, consciência e direção política. Exige entender que a categoria Trabalho é uma categoria ontológica — fundante da vida em sociedade e da transformação do mundo e nós ao mesmo tempo. E que a luta de classes não é uma retórica antiga, mas o alicerce necessário para enfrentar esse sistema que naturaliza a violência e transforma o sofrimento em lucro.
Combater o racismo, o machismo, o assédio, a precarização e a exaustão cotidiana do trabalho é lutar pela vida. E essa luta não se vence com promessas vazias, mas com organização, consciência crítica e unidade. A classe trabalhadora precisa retomar o centro do palco histórico — e, para isso, precisa ouvir e seguir as vozes que historicamente sustentaram o mundo com seus corpos, seu tempo e seu silêncio forçado.
Chegou a hora de romper esse silêncio. E de construir, com as mãos calejadas do povo, um outro tempo. Um tempo em que viver valha mais do que produzir. E que o trabalho, ao invés de opressão, seja ferramenta de emancipação.
Joanne Mota é jornalista, membro do grupo de pesquisa Observa da Universidade Federal do ABC, diretora do Sindicato de Jornalistas de São Paulo (SJSP) e compõe a direção executiva do PCdoB na cidade de São Paulo.
A Coluna do Barão é um espaço dedicado à publicação de análises e reflexões sobre a comunicação e questões como a política, a economia, a cultura e sociedade brasileira em geral. A coluna traz textos exclusivos de autores e autoras diversos, em sua ampla maioria, membros a Coordenação Executiva ou do Conselho Consultivo do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. O conteúdo dos artigos não expressam, necessariamente, a visão da organização.
